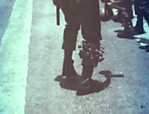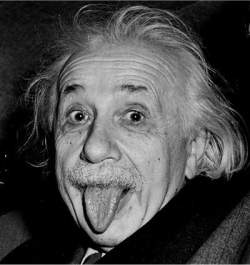A condição humana, no incômodo limite entre o bem e o mal
Exclusivo: no ensaio a seguir, escrito em 1973, o autor de 'Laranja Mecânica' explica as razões de seu livro
09 de novembro de 2012 | 19h 01
ANTHONY BURGESS
Sou, por ofício, um romancista. Acredito tratar-se de um
ofício inofensivo, ainda que não venha a ser considerado respeitável
por alguns. Romancistas colocam palavras vulgares na boca de seus
personagens e os descrevem fornicando e fazendo necessidades. Além
disso, não é um ofício útil, como o de um carpinteiro ou de um
confeiteiro. O romancista faz o tempo passar para você entre uma ação
útil e outra; ajuda a preencher os buracos que surgem na árdua trama da
existência. É um mero recreador, um tipo de palhaço. Ele faz mímica e
gestos grotescos; é patético ou cômico e, às vezes, os dois; ele faz
malabarismo com palavras, como se estas fossem bolas coloridas.
O uso que ele faz das palavras não deve ser levado excessivamente a
sério. O presidente dos Estados Unidos usa palavras; o médico, o
mecânico, o general do exército ou o filósofo usam palavras; e essas
palavras parecem estar relacionadas ao mundo real, um mundo em que
impostos precisam ser arrecadados e depois evitados; carros precisam ser
dirigidos; doenças, curadas; grandes pensamentos, pensados; batalhas
decisivas, travadas. Nenhum criador de enredos ou personagens, por maior
que seja, deve ser considerado um pensador sério, nem mesmo
Shakespeare. Na realidade, é difícil saber o que o escritor criativo
realmente pensa, pois ele se esconde atrás de suas cenas e de seus
personagens. E quando os personagens começam a pensar e a expressar seus
pensamentos, não se trata, necessariamente, dos pensamentos do
escritor. Macbeth pensa uma coisa e Macduff, algo diametralmente oposto;
as ponderações do Rei não são as mesmas de Hamlet. Até mesmo o
dramaturgo trágico é um palhaço, soprando uma melodia triste em um
trombone velho. E então seu ânimo trágico se esgota e ele se torna um
bufão, cambaleando por aí e plantando bananeiras. Nada que deva ser
levado a sério.
Por vezes, entretanto, um mero recreador como eu pode ser tragado a
contragosto para a esfera do pensamento "sério". Ele se vê forçado a dar
sua opinião sobre questões profundas. A causa dessa obrigação pode ser
um repentino interesse público por um de seus romances - um livro que
ele tenha escrito sem considerar profundamente o significado, cujo
objetivo era render algum dinheiro para pagar o aluguel, mas que acabou
adquirindo uma importância não prevista pelo autor. Ou pode ser um
romance em que, graças a uma preocupação ou a um rancor irredutível em
relação a algo que acontece no mundo real, o romancista - para seu
próprio arrependimento - cria algo menos recreativo do que o normal;
algo mais assemelhado a um sermão ou a uma declaração homilética ou
didática - e a elaboração de tais coisas não é, na realidade, a função
do romancista. No momento, encontro-me escrevendo um livro bastante
diferente de qualquer outro que eu tenha escrito, e o motivo pelo qual
escrevo não é tanto o interesse público por um de meus romances, mas o
interesse público por um filme realizado a partir de um dos meus
romances.
Tanto o romance quanto o filme chamam-se Laranja Mecânica
(Clockwork Orange). Publiquei o livro pela primeira vez em 1962, e desde
aquele ano conquistou leitores nos dois lados do Atlântico, o
suficiente para garantir sua contínua impressão. No entanto, dez anos
depois de corrigir as provas de gráfica, seu título e conteúdo
tornaram-se conhecidos por milhões, não apenas milhares, graças à
adaptação cinematográfica bastante fiel feita por Stanley Kubrick. Vi-me
convocado, então, a explicar o verdadeiro significado, tanto do livro
quanto do filme, em todas as mídias públicas dos Estados Unidos, e
também em algumas da Europa, e minha explicação tem sido, mais ou menos,
a seguinte.
Primeiramente, o título. Ouvi a expressão "tão estranho quanto uma
laranja mecânica" pela primeira vez em um pub londrino, antes da 2.ª
Guerra Mundial. Trata-se de uma gíria cockney antiga que se refere a uma
esquisitice ou insanidade tão extrema que chega a subverter a natureza -
afinal, que noção poderia ser mais bizarra do que uma laranja mecânica?
A imagem atraiu-me não somente como algo fantástico, mas também como
algo obscuramente significativo; surreal, mas também obscenamente real. O
casamento forçado de um organismo com um mecanismo; de uma coisa com
vida, que amadurece, é doce, suculenta, com um artefato frio e morto -
seria apenas um conceito assustador? Descobri a relevância desta
alegoria para o século 20 quando, em 1961, comecei a escrever um romance
sobre curar a delinquência juvenil. Li em algum lugar que seria uma boa
ideia liquidar o impulso criminoso por meio de terapia de aversão;
fiquei estarrecido. Comecei a investigar as implicações dessa noção em
um breve trabalho de ficção. O título Laranja Mecânica parecia estar
ali, esperando para se vincular ao livro: era o único nome possível.
O herói, tanto do livro quanto do filme, é um jovem delinquente
chamado Alex. Dei-lhe esse nome por causa de seu caráter internacional
(você não veria um rapaz inglês ou russo chamado Chuck ou Butch), e
também graças às suas conotações de ironia. Alex é uma redução cômica de
Alexandre, o Grande, talhando seu caminho pelo mundo e conquistando-o.
Mas Alex se torna o conquistado - impotente, mudo. Ele fazia sua própria
lei (a lex); torna-se uma criatura sem uma lex e sem léxico. Os
trocadilhos ocultos, claro, não se relacionam com o verdadeiro
significado do nome Alexandre, que é "defensor dos homens".
No início do livro e do filme, Alex é um ser humano dotado, talvez
exageradamente, de três características que consideramos atributos
essenciais do homem. Ele se deleita com o uso de uma linguagem
articulada e até inventa uma nova forma de comunicação (a esta altura,
ele está longe de ser aléxico); ele ama a beleza, que encontra, acima de
tudo, na música de Beethoven; ele é agressivo. Com seus companheiros -
menos humanos do que ele, pois não dão importância à música - ele
aterroriza as ruas de uma grande cidade, à noite. Essa cidade poderia
ser qualquer uma, mas eu a visualizei como uma espécie de amálgama entre
minha nativa Manchester, Leningrado e Nova York. A época poderia ser
qualquer uma, mas é, essencialmente, o hoje. Alex e seus amigos roubam,
mutilam, estupram, vandalizam; acabam matando. O jovem anti-herói é
preso e punido, mas punição não é suficiente para o Estado. Como a
prisão não é um inibidor muito eficiente para o crime, o Home Office ou o
Ministério do Interior introduz uma forma de terapia de aversão que
garante, em apenas duas semanas, eliminar propensões criminosas para
sempre.
Alex, em sua inocência, abraça a oportunidade de ser "curado". Ele
tem tanta fé na indestrutibilidade de sua própria libido que se
considera mais do que um desafio para os especialistas em comportamento
do Estado. Injetam-lhe uma substância que provoca náusea extrema, e a
deflagração da náusea é deliberadamente associada a violentos. Em pouco
tempo, ele não consegue ver cenas de violência sem se sentir
desesperadamente enjoado. Fazer amor era, para ele, apenas um aspecto da
agressão; portanto, até mesmo observar uma parceira sexual desejável
desperta a náusea avassaladora. Ele é forçado a andar por uma corda
bamba de "bondade" imposta. A sociedade fica satisfeita e mal pode
esperar por um milênio livre do crime.
Mas homens não são máquinas, afinal, e o limite entre um impulso
humano e outro é sempre difícil. O tratamento de Alex consistiu em
assistir a filmes violentos e sentir a náusea induzida. Tais filmes
empregaram trilhas sonoras de música sinfônica como "amplificadores
emocionais". Após seu tratamento, o delinquente reformado descobre que
não consegue mais ouvir Beethoven sem se sentir desesperadamente doente.
O Estado foi longe demais: invadiu uma região além de seu pacto com os
cidadãos; fechou para sua vítima um universo de belezas amorais, a visão
de ordem paradisíaca que grandes peças musicais transmitem. Perturbado
por uma gravação da Nona Sinfonia, Alex tenta cometer suicídio, causando
perplexidade e despertando compaixão entre os elementos liberais da
sociedade; Alex, então, é submetido a uma terapia hipnopédica que o
restaura à sua condição "livre" anterior. Despedimo-nos de Alex enquanto
ele sonha com novos e mais elaborados métodos de agressão. A intenção
era a de um final feliz.
O que tentei argumentar, com o livro, era o fato de que é melhor ser
mau a partir do próprio livre-arbítrio do que ser bom por meio de
lavagem cerebral científica. Quando Alex tem o poder da escolha, opta
apenas por violência. Entretanto, existem outras áreas de escolha, como
ilustra seu amor pela música. Na edição inglesa do livro (mas não na
norte-americana, tampouco no filme), há um epílogo que mostra Alex
crescendo, aprendendo a desgostar de seu antigo estilo de vida, pensando
no amor como algo maior do que uma forma de manifestar violência; até
mesmo imaginando-se como marido e pai. Tal caminho sempre esteve aberto;
ele, enfim, opta por segui-lo. Antes uma laranja podre, ele agora se
preenche com algo mais próximo da doçura humana decente.
Liberdade de escolha é mesmo tão importante? O homem é capaz disso? O
termo "liberdade" tem algum significado intrínseco? São questões que
preciso perguntar e tentar responder. Devo registrar que fui
ridicularizado e criticado por expressar meus receios em relação ao
poder do Estado moderno - seja na Rússia, na China ou na que poderíamos
chamar de Anglo-América - de reduzir a liberdade individual. A
literatura já denunciou esse poder em livros como Brave New World
(Admirável Mundo Novo), de Aldous Huxley, e 1984, de George Orwell, mas
pessoas "sensatas", que não se comovem muito com textos criativos,
garantem que há pouco com o que se preocupar. O livro Beyond Freedom and
Dignity (O Mito da Liberdade), de B.F. Skinner, foi lançado na mesma
época em que Laranja Mecânica surgiu nas telas, pronto para demonstrar
as vantagens do que poderíamos chamar de lavagem cerebral benéfica.
Nosso mundo está em má situação, diz Skinner, com os problemas das
guerras, da poluição ambiental, da violência civil, da explosão
demográfica. O comportamento humano precisa mudar - isso, diz ele, é
autoevidente, e poucos discordariam - e, para tanto, precisamos de uma
tecnologia para o comportamento humano. Podemos deixar de fora dessa
equação o homem interior, o homem que encontramos quando discutimos com
nós mesmos, o ser oculto que se preocupa com Deus, com a alma e com a
realidade absoluta. Precisamos enxergar o homem de fora, considerando
especialmente o que leva uma característica do comportamento humano
transferir-se de um indivíduo para outro. A abordagem behaviorista do
homem, da qual o professor Skinner é um grande expoente, prega que ele é
levado a vários tipos de ações por estímulos de aversão e não aversão.
Medo do chicote fazia o escravo trabalhar; medo da demissão ainda faz o
escravo do salário trabalhar. São tais reforços negativos para a ação
que o professor Skinner condena; o que ele deseja ver são reforços
positivos. Você ensina truques a um animal de circo não por meio da
crueldade, mas da bondade. (Skinner deveria saber disso: muito de seu
trabalho experimental foi realizado com animais; alguns de seus avanços
em condicionamento animal aproximavam-se de um nível circense bastante
elevado.) Com os estímulos positivos certos - aos quais respondemos não
de maneira racional, mas por meio de nossos instintos condicionados -,
todos nós poderemos nos tornar cidadãos melhores, submissos a um Estado
cujo objetivo maior é o bem-estar da comunidade. Não devemos, diz tal
argumento, temer o condicionamento. Precisamos ser condicionados para
salvar o ambiente e a raça. Mas precisa ser condicionamento do tipo
certo.
Segundo o discurso skinneriano, é o tipo errado de condicionamento
que transforma o herói de Laranja Mecânica em um nauseado modelo de não
agressão. O fato de eu mesmo considerar qualquer tipo de condicionamento
um erro deve ser atribuído, imagino, à força da tradição religiosa na
qual fui educado. Eu fui, pode-se dizer, condicionado por ela, mas minha
consciência aprova as convicções que sinto em meu âmago. Minha família é
de Lancashire, um condado ao norte do Reino Unido que foi uma fortaleza
da fé católica. A Reforma Protestante, que transformou a Inglaterra no
que ela é hoje, nunca chegou a Lancashire ou, caso tenha chegado, o fez
de maneira suave e moderada, nas infiltrações pacíficas dos períodos
mais tolerantes que seguiram as sangrentas imposições dos Tudors. O tipo
de protestantismo que floresceu na época de Cromwell e criou uma nova
estirpe de mercadores burgueses era calvinista. Predestinação era seu
eixo doutrinal. O homem não teria arbítrio sobre a própria salvação; seu
estado futuro havia sido predeterminado por Deus.
O catolicismo rejeita uma doutrina que parece enviar alguns homens
arbitrariamente ao Paraíso, e outros, de maneira não menos arbitrária,
para o Inferno. Seu destino, diz a teologia católica, está em suas mãos.
Não há nada que o impeça de pecar, se você quiser pecar; ao mesmo
tempo, não há nada que o impeça de se aproximar dos canais de graça
divina que são a garantia de sua salvação. O fato de duas doutrinas
opostas - a do livre-arbítrio e a da predestinação - poderem coexistir
na mesma fé religiosa requer explicação. Primeiramente, há a
omnisciência de Deus. Se Deus sabe tudo, Ele sabe se eu serei condenado
ou salvo: meu destino derradeiro foi, digamos, reservado desde o início
dos tempos. Mas se Deus dá ao homem o poder da livre escolha, poderia
parecer que Ele está deliberadamente renunciando à Sua consciência sobre
o que o homem fará com esse poder. Um Deus onisciente e onipotente, em
um gesto de amor pelo homem, limita tanto Seu poder quanto Seu
conhecimento.
Sean O'Faolain, em sua autobiografia, relata uma incapacidade de
conciliar o livre-arbítrio do homem com o conhecimento total de Deus, o
que foi resolvido certo dia por um súbito insight mágico ou milagroso,
antes de uma corrida de táxi em Manhattan. O'Faolain chegou à seguinte
conclusão: toda e qualquer ação do homem continuava uma ação livre até
ser executada. Uma vez executada, tornava-se algo que Deus havia
determinado que acontecesse. Ele e o taxista ficaram bêbados para
celebrar a descoberta.
Mas os calvinistas sempre dispuseram de munição pesada para defender a
campanha da predestinação. Na direção do exército do livre-arbítrio,
eles miram o canhão da Queda. Adão caiu por causa do pecado original da
desobediência; ele transmitiu a culpa por esse pecado a todos os seus
descendentes. Os homens são predispostos a pecar; não são criaturas
livres. A resposta ortodoxa para isso é, claro, a de que Jesus Cristo
morreu para que os homens fossem libertados, mas o calvinismo parece não
se entusiasmar com tal fato. As teocracias construídas pelos
calvinistas, cidades-estados ou comunidades inteiras governadas por
homens da fé autoeleitos, foram sempre caracterizadas por uma espécie de
melancolia chuvosa. Veja a Massachusetts de Cotton Mather; a Genebra do
próprio João Calvino. Para eles, permitir que os homens determinassem o
próprio destino era uma marca da depravação católica. Homens são
pecadores, homens não evitarão o pecado (por que deveriam, se estão
predestinados ao Paraíso ou ao Inferno, independentemente do que façam?)
Homens precisam ser obrigados a serem bons; as mulheres, filhas da
pérfida Eva, ainda mais. O calvinismo é repleto de reforços negativos.
Não é meu objetivo ensinar teologia elementar, e certamente não é
minha intenção considerar o mundo contemporâneo a partir desse ângulo da
fé herdada. Estou apenas demonstrando que certos termos que emprestamos
da teologia têm validade em uma abordagem secular de nossos problemas.
Por ser uma pessoa cuja religião tem sido hesitante por 40 anos, seria
hipocrisia de minha parte pregar que, para acabarmos com as guerras e
regenerar os rios poluídos, deveríamos nos voltar para Deus. O que
sugiro é que a religião e outras disciplinas seculares ou
antropocêntricas, como filosofia, psicologia e sociologia, têm algo em
comum: uma consciência sobre a contínua infelicidade do homem. E,
talvez, certas palavras de origem arcaica, como "bem", "mal" e
"livre-arbítrio", até mesmo "pecado original", não precisam ser
substituídas por terminologia pseudocientífica apenas por serem
derivadas de uma abordagem teocêntrica do homem.
"Chamávamos o tabuleiro de xadrez de branco - chamamo-lo de negro",
diz o bispo Blougram no poema de Robert Browning. Em outras palavras,
uma perspectiva otimista da vida humana é tão válida quanto uma
pessimista. Mas de que vida estamos falando? A de toda a raça ou a do
imperceptível fragmento dela que cada um de nós chama de "eu"? Creio que
sou otimista em relação ao homem: acredito que sua raça sobreviverá;
acredito que, por mais doloroso e lento que seja o caminho, ele
resolverá seus grandes problemas, simplesmente por ter consciência
deles. Quanto a mim mesmo, tudo o que posso dizer é que estou ficando
velho, minha visão está ficando embaçada, meus dentes requerem atenção
constante, não posso comer ou beber como antes, fico entediado com cada
vez mais frequência. Não consigo me lembrar de nomes, meu raciocínio
funciona lentamente, tenho espasmos de inveja dos jovens e de
ressentimento por minha própria decadência iminente. Se eu tivesse fé
ardente na sobrevivência pessoal, essa melancolia da senescência poderia
ser imensamente abrandada. Mas perdi tal fé, e é pouco provável que eu a
recupere. Às vezes, tenho desejo de aniquilação imediata, mas a ânsia
de permanecer vivo sempre se sobrepõe. Existem compensações - o amor, a
literatura, a música, a rica vivência na cidade sulista em que passo a
maior parte do meu tempo -, mas elas são muito incertas. Existe um
consolo maior e mais duradouro - o fato de que sou livre para escrever o
que desejar, de não ter de seguir nenhum relógio, de não precisar
chamar nenhum homem de "senhor" e submeter-me a ele por medo. Mas tal
liberdade traz seus próprios remorsos: sinto-me culpado se não trabalho;
sou meu próprio tirano. As coisas que tenho agora me eram mais
necessárias quando eu era jovem. Lembro-me da máxima de Goethe: "Cuidado
ao desejar qualquer coisa na juventude, pois você a terá na
meia-idade".
Reconheço que estou em melhores condições do que a maioria, mas não
acho que tenha optado por me eximir da agonia e da ansiedade que
atormentam homens e mulheres escravos de vidas que não escolheram,
habitantes em comunidades que odeiam. Penso, especialmente, nos cidadãos
de grandes centros comerciais e industriais - Nova York, Londres,
Bombaim, a minha própria Manchester. "Você comerá seu pão com o suor do
seu rosto": o Livro de Gênesis resume perfeitamente. A manutenção de uma
sociedade complexa depende, cada vez mais, de trabalhos repetitivos,
trabalhos sem prazer ou criatividade. As coisas que comemos, as roupas
que vestimos, os lugares em que moramos tornam-se progressivamente
padronizados, pois a padronização é o preço que pagamos pelos preços que
podemos pagar. A vida simplesmente passa para a maioria de nós, como a
hora em um despertador. Acabamos por nos acostumar com o ritmo imposto
pela nossa necessidade de subsistência; em pouco tempo, passamos a
gostar de nossas amarras.
Um dos slogans do superEstado no romance 1984, de George Orwell, é
"Liberdade é escravidão". Uma das interpretações possíveis é a de que o
fardo de tomar as próprias decisões é, para muitas pessoas, intolerável.
Estar vinculado à necessidade de decidir por conta própria é ser
escravo de seus próprios ímpetos. Lembro-me de quando me alistei no
exército britânico, aos 22 anos. Inicialmente, me ressenti da
disciplina, da remoção de até mesmo a mais ínfima liberdade (como o
direito de comer quanto e o que fosse desejado e o direito de ir ao
banheiro quando o próprio corpo, e não uma corneta, determinasse). Em
pouco tempo, minha redução a mero mecanismo começou a me agradar, a me
acalmar. Participar de um esquadrão obedecendo ordens com o restante do
grupo, proibido de fazer perguntas ou questionar regulamentos - eu
estava, depois de quatro anos de rigorosa vida acadêmica, em férias da
necessidade de precisar escolher o tempo todo. Depois de seis anos,
posso simpatizar com o civil que não gosta de tomar as próprias decisões
(onde comer, em quem votar, o que usar). É mais fácil receber
orientações: fume tal cigarro - 90% menos alcatrão; leia tal livro - 75
semanas na lista de best-sellers; não veja tal filme - é pseudoarte.
Talvez exista algo de positivo na submissão social, considerando que a
vida dos trabalhadores tem muito pouco espaço para o individualismo: é
doloroso ser um especialista em Spinoza à noite e um operário durante o
dia. E existe algo em nossa natureza gregária que faz com que desejemos
nos submeter. Até mesmo os rebeldes anticonformistas encontram suas
próprias conformidades: o "uniforme" de cabelo longo, barba, calças de
algodão trançado, miçangas e amuletos, por exemplo, e o invariável gosto
por maconha e músicas de protesto tocadas no violão. Uma pessoa precisa
se acomodar em um padrão de trabalho para que possa comer e alimentar a
família; uma pessoa pode achar agradável, natural ou conveniente
acomodar-se em seus gostos sociais. Porém, quando os padrões de
conformidade são impostos pelo Estado, as pessoas têm o direito de se
assustar. Infelizmente, a conformidade política que leva a um uniforme, a
uma bandeira, a um slogan, a uma mordaça no livre discurso tende a
funcionar a partir de uma disposição para a obediência em áreas não
políticas.
Talvez não tenhamos obrigação nenhuma de gostar de Beethoven ou de
detestar Coca-Cola, mas é, pelo menos, concebível que sejamos obrigados a
não confiar no Estado. Thoreau escreveu sobre o dever da desobediência
civil; Whitman disse, "Resista muito, obedeça pouco". Para esses
liberais, e muitos outros, a desobediência é uma coisa boa. Em pequenas
comunidades sociais (paróquias inglesas, cantões suíços), o sistema que
governa pode, ocasionalmente, ser adequado à sociedade governada. Porém,
quando a comunidade social cresce, transforma-se numa megalópole, num
Estado, numa federação, o sistema de governo se distancia, torna-se
impessoal, até desumano. Ele toma nosso dinheiro para propósitos que,
aparentemente, não aprovamos; trata-nos como estatísticas abstratas;
controla um exército; apoia uma força policial cuja função nem sempre
parece ser de proteção.
Tudo isso, claro, é uma generalização que poderia ser considerada
bobagem preconceituosa. Eu, particularmente, desconfio de políticos ou
representantes do Estado (poucos escritores e artistas confiam) e
acredito que as pessoas entram na política por duas razões: uma
negativa, a de não terem talento para mais nada; outra positiva, a de
que ter poder é sempre delicioso. Contra isso deve ser considerada a
verdade de que o governo cria leis saudáveis para proteger a comunidade
e, no grande mundo internacional, pode ser a voz de nossas tradições e
aspirações. Mas ainda é fato que, em nosso século, o Estado foi
responsável pela maior parte de nossos pesadelos. Nenhum indivíduo ou
associação livre de indivíduos poderia ter chegado às técnicas de
repressão da Alemanha nazista, ao massacre de bombardeios intensos ou à
bomba atômica. Departamentos de guerra podem pensar em termos de milhões
de mortos, enquanto o homem médio pode apenas fantasiar sobre o
assassinato de seu chefe. O Estado moderno, seja em um país totalitário
ou democrático, tem poder demais, e provavelmente estamos certos em
temê-lo.
É relevante o fato de que os livros agourentos de nossa época não
sejam sobre novos dráculas ou frankensteins, mas sobre o que poderia ser
chamado de distopias - utopias invertidas, em que um governo megalítico
imaginário leva a vida humana a um extraordinário extremo de miséria.
Sinclair Lewis, em It can't happen here (um romance curiosamente
negligenciado), apresenta uma América do Norte que se tornou fascista, e
as características desse fascismo são tão norte-americanas quanto torta
de maçã. O sardônico e grosseiro presidente estilo Will Rogers usa as
cláusulas de uma constituição escrita por otimistas jeffersonianos para
criar um despotismo que, aos olhos ignorantes da maioria, parece,
inicialmente, mero senso comum. A vitória de intelectuais com cabelos
longos e anarquistas verborrágicos sempre agrada ao homem médio, apesar
de poder, na realidade, significar a supressão do pensamento liberal (a
constituição norte-americana foi escrita por intelectuais de cabelos
longos) e a eliminação da divergência de opiniões políticas. O livro
1984, de Orwell - uma visão aterradora que talvez tenha evitado uma
realidade aterradora: ninguém espera que o ano de 1984 seja igual ao de
Orwell - mostra o descarado amor pelo poder e pela crueldade que muitos
líderes políticos escondem sob as flores da retórica "inspiradora". O
"Núcleo do Partido" da Inglaterra futura de Orwell exerce controle sobre
a população por meio da falsificação do passado, para que ninguém possa
recorrer a uma tradição morta de liberdade; por meio da delimitação da
língua, para que pensamentos de rebeldia não possam ser formulados; por
meio de uma epistemologia de "duplipensar", que faz o mundo exterior
parecer o que os governantes querem que pareça; e por meio de simples
tortura e lavagem cerebral.
A visão norte-americana e a inglesa se aproximam ao pressupor que os
instrumentos aversivos do medo e da tortura são as inevitáveis técnicas
do despotismo, que busca controle total sobre o indivíduo. Mas, no
longínquo ano de 1932, Aldous Huxley, em seu Admirável mundo novo,
demonstrou que a submissa docilidade que poderosos Estados buscam de
seus súditos pode ser mais facilmente alcançada por meio de técnicas não
aversivas. Condicionamento pré-natal e na infância resulta em escravos
contentes com a própria escravidão, e a estabilidade é reforçada não por
meio de chicotes, mas de um contentamento imposto pela ciência. Este,
claro, é um caminho que o homem pode seguir se realmente deseja um mundo
sem guerras, crises populacionais, angústias dostoievskianas. As
técnicas de condicionamento estão disponíveis, e talvez, em breve, a
condição do mundo assuste o homem o suficiente para que ele as aceite.
Porém, como diz Huxley por meio de seu herói, um selvagem incivilizado
criado em uma reserva indígena, a felicidade não é, na verdade, o que
queremos. O homem é, quase por definição, uma criatura inquieta -
criativa, destrutiva, inclinada ao entusiasmo e à dor. O jovem selvagem
exige o que o admirável mundo novo não pode oferecer: infelicidade; e se
suicida.
"O homem", diz G. K. Chesterton, "é uma mulher" - ele não sabe o que
quer. Há poucos de nós que não rejeitam imediatamente os pesadelos
orwelliano e huxleiliano. De certa maneira, preferiríamos uma sociedade
repressiva, repleta de polícias secretas e arame farpado, em vez de uma
condicionada pela ciência, em que ser feliz significa fazer a coisa
certa. Todos nós poderíamos concordar com o professor Skinner: uma
sociedade bem governada e condicionada é algo excelente para uma nova
raça - uma espécie de homem racionalmente convencida da necessidade de
ser condicionada, desde que o condicionamento seja baseado em
recompensas, não em punições. Mas não somos essa nova raça, e teimamos
em não ser nada além do que somos - criaturas conscientes das próprias
falhas e mais ou menos determinadas a fazer algo para resolvê-las, e
fazê-lo de nossa própria maneira. Poderíamos até pensar em termos de
dois seres humanos: nós mesmos, homens livres ou imperfeitos; e o novo
homem, que ainda surgirá (criação do próprio homem, não da natureza), a
quem talvez possamos chamar de neoantropos, um nome que soa como um
estrangulamento.
Curiosamente, ou talvez não, as figuras históricas que mais
reverenciamos são aqueles homens e mulheres que lutaram contra a
repressão e foram até martirizados por defender os justos ou bons.
Prometeu, Sócrates, Jesus Cristo, sir Thomas More, Giordano Bruno,
Galileu - a lista é extensa, e a história continua a aumentá-la com
heróis como os Kennedys e Martin Luther King Jr. É como se,
perversamente, precisássemos da intolerância por não conseguirmos seguir
adiante sem heróis. O que os grandes intransigentes fazem por nós é
lembrar-nos de certos conceitos absolutos, como bem e mal. Foi a
ocupação nazista da França que fez Jean-Paul Sartre formular uma nova
filosofia para o homem, que soa como uma teologia, apesar de não ser. Ao
falar sobre a "era de assassinos" prevista por Rimbaud, Sartre, em seu
Que É a Literatura?, diz:
Fomos ensinados a levar a sério. Não é nossa culpa nem nosso mérito,
se vivemos em uma época em que a tortura era um fato diário.
Chateaubriand, Oradour, a Rue des Saussaies, Dachau e Auschwitz
demonstraram que o Mal não é uma aparência, que saber sobre ele não o
afasta, que não se opõe ao Bem como uma ideia confusa é oposta a uma
ideia clara... Apesar do que desejamos, chegamos a essa conclusão, que
parecerá chocante para almas elevadas: o Mal não pode ser redimido.
O estagnado, exaurido e corrupto período dos anos 1930 na França
representou uma espécie de condição mecânica, um lúgubre funcionamento
da máquina humana. Quando os franceses estavam submetidos à menor
liberdade possível, sob ocupação, vivendo um paradoxo tipicamente
humano, eles estavam, enfim, livres para recuperar um senso de dignidade
da liberdade humana. Ocorreu a Resistência; houve a última e
irredutível liberdade de dizer "não" ao mal. Trata-se de um direito
indisponível em uma sociedade preocupada com reforços de comportamento. O
fato de um homem poder se dispor a sofrer tortura e morte em nome de um
princípio é o tipo de perversidade insana que faz pouco sentido no
laboratório dos behavioristas.
Tendemos a usar o termo "mal" sem estarmos dispostos a defini-lo. Não
se trata exatamente de um sinônimo para "ruim", pois não podemos falar
de uma laranja malvada, exceto poeticamente, ou sobre uma performance
maldosa de violino. Certamente não é um sinônimo para "errado". "Certo" e
"errado" são, sabemos, termos com referências variadas - em outras
palavras, o que é certo em determinada época pode ser errado em outra.
Em um período de guerra contra a Alemanha, pode ser tão errado ter
amizade com alemães que você corre o risco de ser morto por isso. Em um
período de paz, pode ser certo ser amigável com eles, ou, pelo menos,
algo de importância neutra. É certo obedecer quaisquer leis que estejam
em voga em determinado momento, e errado insultá-las propositalmente.
Não podemos levar o certo e o errado muito a sério, pois eles mudam e
oscilam com frequência. Precisamos de conceitos absolutos, como "bem" e
"mal". Nossa atitude em relação ao bem é curiosamente descompromissada
ou indiferente; estamos mais acostumados a ser instruídos a não fazer o
mal do que estimulados a fazer o bem.
O mal é sempre o mal, e pode ser considerado, talvez, algo
essencialmente destrutivo, uma negação consciente e deliberada da vida
orgânica. É sempre maldade matar outro ser humano, mesmo que, às vezes,
seja certo fazê-lo. Talvez seja maldade matar qualquer organismo, até
mesmo o gado e as ovelhas que precisamos para nossa nutrição. Ser um
carnívoro não é certo nem errado, pelo menos na sociedade ocidental: é
algo de significado neutro. O hinduísmo é tão veemente em relação à
santidade de toda vida que se opõe à matança de qualquer coisa, seja por
comida ou até, em certas situações, por autoproteção. É permitido usar
uma rede contra mosquitos, mas não mata-moscas. Eu já vi operários
hindus paralisando grandes empreendimentos imobiliários para proteger a
vida subterrânea que subiu à superfície com o movimento de uma pá. O
Oriente e o Ocidente acreditam, essencialmente, na santidade da vida,
mas o Ocidente é mais pragmático em relação a ela. Em uma espécie de
extensão metafórica, o Ocidente vai mais longe do que o Oriente no que
diz respeito ao mal (não apenas ao errado) atribuído à destruição de um
artefato, especialmente se tal artefato for uma obra de arte. Uma obra
de arte é, de certa maneira, orgânica, e rasgar uma pintura ou demolir
uma escultura não é apenas uma ofensa contra a propriedade; é uma ofensa
contra a vida.
Poder-se-ia considerar o princípio do mal no âmbito da conduta em que
a destruição de um organismo não é intencional. É errado forçar
crianças a consumir drogas, mas poucos negariam que é, também, maldade: a
capacidade de autodeterminação daquele organismo está sendo
prejudicada. Mutilar é maldade. Atos de agressão são maldosos, apesar de
sermos propensos a encontrar fatores atenuantes no espírito passional
da vingança ("um tipo de justiça selvagem", definiu Francis Bacon) ou no
desejo de proteger os outros de esperados, senão praticados, atos de
violência. Todos nó guardamos, na imaginação ou na memória, imagens do
mal em que não há sequer um sopro de atenuação - quatro jovens
sorridentes torturando um animal, um estupro em gangue, vandalismo a
sangue frio. Aparentemente, o condicionamento forçado de uma mente, por
melhor que seja a intenção social, é maldade. / Tradução de Henrique B.
Szolnoky
Copyright The Clockwork Condition (A Condição Mecânica) © The Estate of Anthony Burgess
Trecho de Laranja Mecânica, de Anthony Burgess (tradução de Fábio Fernandes, editora Aleph):
"-- Então, o que vai ser, hein?
Éramos eu, ou seja, Alex, e meus três druguis, ou seja, Pete, Georgie
e Tosko, Tosko porque ele era muito tosco, e estávamos no Lactobar
Korova botando nossas rassudoks pra funcionar e ver o que fazer naquela
noite de inverno sem-vergonha, fria, escura e miserável, embora seca. O
Lactobar Korova era um mesto de leite-com, e possa ser, Ó, meus irmãos,
que tenhais esquecido de como eram esses mestos, pois as coisas mudam
tão skorre hoje em dia e todo mundo esquece tão depressa, porque também
quase não se lê mais os jornais mesmo.
Bom, o que vendiam ali era leite-com-tudo-e-mais-alguma-coisa. Eles
não tinham autorização para vender álcool, mas ainda não havia leis
contra prodar algumas das novas veshkas que costumavam colocar no bom e
velho moloko, então você podia pitar com velocet, sintemesc, drencrom ou
alguma outra veshka que lhe daria uns belos de uns quinze minutos muito
horrorshow só ali, admirando Bog e Todos os Seus Anjos e Santos no seu
sapato esquerdo com luzes espocando por cima da sua mosga. Ou você podia
pitar leite com faca dentro, como a gente costumava dizer, e isso te
aguçava e te deixava pronto para um vinte-contra-um do cacete, e era
isso o que estávamos pitando naquela noite com a qual começo esta
história".
LARANJA MECÂNICAAutor: Anthony Burgess
Tradução: Fábio Fernandes
Editora: Aleph (352 págs., R$ 79; lançamento previsto para o próximo dia 22)